Solidão, medo da solidão e democracia
- -DRA SYLVIA ROMANOO
- 7 de set. de 2020
- 25 min de leitura
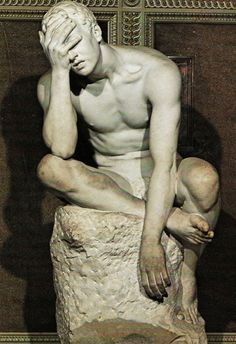
A solidão engloba tanto a esperança de viver de acordo com seus próprios critérios, quanto o medo de não poder se defender. É uma condição marginal da constituição de uma sociedade. Esse modo de isolamento do indivíduo nos permite pensar sobre o conflito e a polarização na democracia. O texto analisa as concepções de solidão na filosofia de Spinoza para alcançar uma análise de utilidade. A força da mente, virtude e condição da coragem que corresponde ao entendimento pela mente, é a maneira de buscar superar o conflito.
INTRODUÇÃO
A democracia é um conceito e uma aspiração dos povos - mas talvez não de todos. Abrange não tanto a evidência de alguns mais ambiciosos, mas dos momentos em que um ou outro já não busca seu próprio proveito - sem olhar para quem - ou espera que outros sigam sua opinião ou, em suma, agem de acordo com sua própria engenhosidade. e eles esperam que outros o sigam também. A democracia funciona sobre um piso móvel instável, porque aceita tanto a contradição de opiniões quanto a imagem de um todo harmonioso.
Consequentemente, sofre flutuações no estado de espírito dos seus cidadãos que defendem os seus interesses de uma forma particular ou os protegem recorrendo a estruturas sociais (partidos, sindicatos, associações comerciais, etc.). Não parece que não haja espaço para a diversidade e ao mesmo tempo se espere uma conjunção de interesses que beneficiem o comum.
Desde Aristóteles,” a democracia parece o melhor dos regimes - o menos ruim, A separação do conatus é um fato , a diferença de sentimentos que se segue é um problema na filosofia de Spinoza, porque se os homens concordam, entretanto, pode ser, como com Hobbes, de uma forma completamente externa e por restrição; neste caso, a separação permanece intransponível ( Brykman, 1973 , p.188) 2
Neste contexto, e no actual, o caminhante parece encontrar-se entre a fuga e o refugio na sua solidão - com a expectativa de encontrar refúgio nas instituições, talvez - ou na manifestação, ultimamente violenta e exigente, muitas vezes com razão. Hoje a polarização, muitas vezes produzida pelos próprios políticos, empurra radicalmente a cidadania entre o absenteísmo e a manifestação.
Mas não é essa radicalização o ressurgimento dos afetos que constituem a sociedade?
Talvez por causa dessa mesma polarização a vontade da multidão ressurja tentando redefinir o acordo comum?
Dado que o horizonte teológico-político põe em cena o medo e a esperança, uma das dificuldades é como constituir uma imagem de salvação, de beatitude, que satisfaça a cada um, sem destruir o comum.
A democracia não se define por essa tensão entre o indivíduo e o gregário, mas permite a aceitação na sociedade da ideia de que se pode viver sozinho, separado dos outros. Essa imagem de isolamento, por sua vez, permite pensar o conflito e a polarização na sociedade, principalmente na democracia, porque é uma forma extrema de representar a utilidade, o eixo do pensamento político.
A democracia parece facilitar esta forma de representar a utilidade, hoje mais do que no século XVII, pelas formas como os cidadãos têm acesso aos bens e serviços, pelas formas como consomem.
“Num primeiro momento, analiso os conceitos de solidão e medo da solidão, onde se revela a matriz de utilidade com a qual Spinoza trabalha e como a oposição solidão-sociedade revela as ilusões de solidão. Mais tarde, a força da mente será vista como uma resposta à solidão como uma estrutura social. A fortaleza é uma resposta ao conflito e à polarização da democracia”( Sergio E. Rojas )
. A solidão
O ponto de partida é o seguinte: “O homem conduzido pela razão é mais livre na sociedade, onde vive segundo o decreto comum, do que na solidão, onde se encontra só”. ( Spinoza, E 4P73 G II, p.264 ) 3 Este teorema concentra duas oposições estruturadas em pares:"Balibar, É. (2018). Spinoza politique . O transindividual ( [1] civitas-solitudo" e [2] ex communi decreto vivere-sibi soli obtemperare . Spinoza expressa uma gradação de liberdade segundo a qual o poder do indivíduo aumenta mais na comunidade do que na solidão.
Que viver em sociedade significa viver de acordo com o decreto comum não representa mais do que o acordo dos comuns;
Viver sozinho é se marginalizar de qualquer acordo. A passagem articula a oposição da ideia de umacordo-com : se for comum, então estamos em parceria; sim idiota , só consigo mesmo, estamos sozinhos.
Spinoza aqui usa civitas (assembléia de cidadãos, não urbs, mas cidade em seu sentido político).
Não esqueçamos que Spinoza distingue o cidadão do sujeito porque um se define em função dos seus interesses e das vantagens que tira da vida social e o outro em termos da sua submissão e obrigação às leis e ao governo ( TP 3/1 ) .
Quanto a “viver de acordo com o decreto comum” e “obter-se”, refere-se ao campo da obrigação.
Spinoza não identifica obediência ( obedientia ) à servidão ( servitus ), uma vez que a segunda se define a partir da imaginação, livre arbítrio, enquanto a primeira se refere à liberdade que não ocorre fora do social ( Rojas, 2012 , p.213ss).
Mais importante é que essa segunda oposição funciona ao mesmo tempo opondo dois verbos de registros diferentes. A construção de Spinoza usa ex communi decree vivere bem como similar a ex ductu agere rationes, vivere ( por exemplo, E 4P24, G II, p.226), equivalentes entre si, para indicar o aumento da potência, enquanto a expressão "para se obter" se refere a uma vida sem crescimento. Por outro lado, razão e obediência absoluta ( nec rationi, nec obedientiæ absolutæ , TP 7/1, G III, p.307 ) são apresentadas como equivalentes.
Bebendo de fontes clássicas, Spinoza se opõe em outros contextos obedecendo à fortuna ao invés de si mesmo ( por exemplo, fortunæ potius, quam sibi parere: E 5P41S, G II, p.307 ), onde o primeiro se refere a servidão por subordinação à exterioridade, e a segunda por contraste com autocontrole ( sibi parere) O decreto comum não se opõe ao indivíduo, mas ao seu egocentrismo. O comum aumenta mais poder do que o simples
. A obediência será melhor definida quando você chegar à fortaleza mais tarde.
Ora, o referido aumento de poder talvez apareça como uma aspiração de universalidade (por exemplo, Matheron, 1969 , p.355) que percorre a escala imaginária que vai do corpo simples aos indivíduos até atingir o indivíduo absoluto, o natureza
. Essa primeira abordagem destaca a existência de dois registros conflitantes na leitura: primeiro, que os modos finitos em uma unidade maior (por acordo) aumentam a potência indefinidamente (tende ao infinito) conforme a concordância é maior. Em segundo lugar, que conceitualmente, mesmo que fosse materialmente possível -político-Não faz sentido, porque a unidade absoluta faz desaparecer qualquer conflito, pois não há fora da natureza, nem resistência externa. A referida escala e o referido esforço para aumentar a potência de ação valem na escala certa, como redução da resistência.
Por outro lado, supõe uma certa racionalidade por parte do indivíduo ou, na sua ausência, uma liderança igualmente unitária, embora fosse heterônoma (como obediência à autoridade). Dos regimes descritos por Spinoza, a democracia contém uma aspiração de universalidade superior à monarquia e à aristocracia, na medida em que um sistema de representação como o conselho superior não parece ser enunciado nesses dois regimes. A ideia implícita de representatividade no Tratado Políticoexpresso por órgãos como o Conselho Superior, reintroduz o problema do poder, se não reinterpretar diretamente o lugar do poder.
Poderíamos talvez comparar o lugar desempenhado pela representatividade entre governantes e governados com a expressão do poder entre natura natura e natura naturans , respectivamente(Carvajal, J. (2008). Significado e função da paz em Spinoza. Em J. Carvajal e ML Cámara (Eds.) Spinoza: da física à história (pp. 319-352). Cuenca, Espanha: Universidade de Castilla-La Mancha)
. Se a fonte de poder 4 é a multitudo não apenas na democracia 5 , mas em geral, seguindo Hobbes, o governo emergente obtém seu poder de todos os cidadãos, e eles se tornam governados ou súditos., dependendo se se submetem ao caráter representativo escolhido, seja monarquia, aristocracia ou democracia onde a multidão continuaria no poder imediatamente. Assim, Spinoza escreve:
“E o direito de tal sociedade é chamado Democracia, que conseqüentemente é definida como uma assembleia universal de homens que detêm coletivamente o direito supremo sobre todas as coisas. Disto se segue que o poder supremo não está sujeito a nenhuma lei, mas que todos devem obedecê-la com respeito a todas as coisas: porque com isso tiveram que concordar, tácita ou expressamente, tudo, quando a ele transferiram todo o seu poder de defesa, isto é , tudo seu direito. Pois se eles quisessem manter algo para si mesmos, deveriam ter simultaneamente cuidado como poderiam se defender com segurança contra isso; Mas como não o fizeram, nem o poderiam fazer sem dividir o Estado e, conseqüentemente, sem destruí-lo, por isso se submeteram absolutamente por isso mesmo à vontade do poder supremo: porque como o fizeram absolutamente (como já mostramos) e forçados pela necessidade e sob a própria razão, segue-se que, a menos que queiramos ser inimigos do Estado e agir contra a razão, que nos aconselha a defender o Estado com todas as nossas forças, Somos obrigados a cumprir absolutamente todos os mandamentos do poder supremo, mesmo que ele comande as coisas mais absurdas; pois a razão também ordena a execução de tais comandos para que escolhamos o menor dos dois males. ( pois a razão também ordena a execução de tais comandos para que escolhamos o menor dos dois males. ( pois a razão também ordena a execução de tais comandos para que escolhamos o menor dos dois males. (Spinoza, TTP 16/8, G III, pp. 193-194 )”
A sub-rogação do poder supõe a conservação do poder, como aponta Spinoza ( TP 3/3 ). Obviamente, a relação natura naturans-natura naturata é de causa para efeito ( E 1Ax3 & 4 , entendida como uma produção), sendo uma relação ontológica e uma relação cognitiva ao mesmo tempo. Nesse último sentido, a natureza das coisas, no caso o governante, é conhecida tanto quanto a relação, ou seja, o governo.
Na medida em que se trata de uma sub-rogação e não de uma produção, ao contrário disso, na sub-rogação a autoridade ou o poder podem ser subtraídos. Não há legitimação a menos que seja entendida como simples legalidade ou transferência de poder. Retirou o acordo, retirou o poder. Isso significaria várias coisas: que o governo é legalidade e o governo renova constantemente a legalidade enquanto ela dura; que a relação governante é tão efêmera quanto imaginária; que o governo seja dissolvido, etc. No entanto, algo permanece sem solução. Por que o governante consegue conservar, produzir e acumular tanto poder e os governados parecem perder tudo na relação, de modo que a relação de origem do poder aparentemente se inverte, como se a natura naturata dominasse o poder.natura naturans , o que obviamente seria uma contradição? Os termos o expressam: governante , particípio presente, ativo portanto; governado , particípio passado, lido como uma figura passiva. O poder foi transferido, e o transmissor perdeu seu poder e como dissemos, não, ainda pertence a ele, ele ainda pode resistir e desobedecer. Mas o preço da desobediência é parecer irracional . O conflito é certamente inevitável na sociedade e limita o aumento do poder de um contra o outro. A interpretação de Spinoza do conflito inevitavelmente tem a ver com uma falta de conhecimento e com o conhecimento do bem e do mal.
Na monarquia, por exemplo, o problema é o da estabilidade entre a administração dos interesses apenas do monarca e a dos governados. O sistema pode ser estável desde que o monarca não dê muita importância aos seus benefícios, em detrimento do dos outros.
Por outro lado, na solidão, a potência é avaliada negativamente na medida em que significa uma diminuição da potência e implica, dependendo do grau de solidão, dedicar mais tempo às suas necessidades:
A sociedade é muito útil e absolutamente necessária, não apenas para viver com segurança diante dos inimigos, mas também para aproveitar [ compendium faciendum ] de muitas coisas; então, a menos que os homens queiram dar ajuda mútua [ operam mutuam], faltarão arte e tempo para se sustentar e se preservar tanto quanto possível. Na verdade, nem todos são igualmente adequados para todas as coisas e ninguém seria capaz de realizar as coisas que ele absolutamente requer por conta própria.” Força e tempo, eu digo, faltam a cada um, se ao menos tivesse que arar, semear, moer, assar, tecer, costurar e fazer muitas outras coisas para o sustento da vida, sem falar nas artes e nas ciências, que Eles também são extremamente necessários para o aperfeiçoamento da natureza humana e para sua bem-aventurança. Vemos, com efeito, que aqueles que vivem como bárbaros sem governo [ política ] agem miseravelmente e quase de maneira animal, e não buscam dessa forma aquelas poucas coisas, miseráveis e rudes, que possuem, mas pela ajuda mútua [ ópera mútua], o que quer que seja. ( Spinoza, TTP 5/7 G III, p.73 ).“
A solidão afeta imediatamente a conservação do indivíduo 6 .
As coisas que pode consumir e de que necessita para existir são uma função da organização e divisão de tarefas na produção de bens e serviços. Você pode entender em que sentido a produção de bens foi decisiva na sociedade holandesa do século XVII.
Aqui duas imaginações coincidem, a de representar a produção de bens e a de representar o consumo. Há uma função segundo a qual o segundo depende do primeiro, com o esclarecimento de que um sujeito consome um pouco de tudo, mas produz muito pouco ou apenas um gênero. Em uma sociedade de consumo, como a contemporânea, existe uma imaginação adicional segundo a qual o poder individual está em sua capacidade de consumir.
A ideia da concordância com isso está na base do teorema E 4P73 . A colaboração mútua pressupõe uma compreensão da divisão do trabalho, um governo. Na falta de uma norma, o conflito não é simplesmente o choque de interesses e paixões -que sobrevive na sociedade-, mas a impossibilidade de obter benefícios. É esta regra básica que atribui ao ser humano o estatuto de cidadão ( TP 3/1 ), porque vive numa organização ( civitas, societas ) e ao mesmo tempo produz uma concessão, submissão ao governo ( potestas ) pela qual a regra garante Ajuda mutua. A utilidade nesta ajuda humana mútua aumenta se o ser humano "viver sob a orientação da razão" (Spinoza, E 4P35C1, GII, p.233 ).
O aparente apelo de morar sozinho é fugir dos conflitos que ocorrem socialmente. A ideia confusa de "vida contemplativa" lembra isso, mas que não pode, de fato, ocorrer fora da vida pública. Essa aparente paz conquistada se traduz na perda do lazer. É óbvio que vantagem há em viver em sociedade.
III. Do medo à solidão
A sedução de morar sozinho nada mais exprime do que o poder imaginário de viver para si, ignorando a assistência mútua e a norma que tal assistência subtende entre os indivíduos. Pode-se acreditar que é autônomo, mas essa autonomia ( sui juris esse ) é entendida por Spinoza como conduzir sob a orientação ou opinião da razão (por exemplo, TP 5/1 ) ou “a condição em que o sujeito pode e o faz ele é capaz de usar a razão ”( Cristofolini, 1985 , p.54). Nesse sentido, o guia da razão, embora possa ser atribuído individualmente a cada membro da cidadania, tem sua maior abrangência se ocorrer na sociedade, se for político .
No entanto, a solidão é um modo de isolamento que, imaginativamente, pode parecer ter a vantagem do desacordo político e de evitar o conflito social, mas ao renunciar às vantagens pelas quais se diz cidadão, renuncia à própria cidadania 7 . Desse ponto de vista, pode-se considerar que o isolamento leva à ausência de manifestação política, de compromisso social, como se fosse uma renúncia à política.na crença de que o conforto da solidão lhe dá alguma vantagem. Assim, Spinoza atira contra uma forma de individualismo, ver narcisismo, que consiste na renúncia a seu direito natural. Pode-se sublinhar o caráter paradoxal dessa expressão: Espinosa insiste em que o indivíduo não perca seu direito natural (entendido o direito como seu poder), que a obrigação que ele contrai socialmente não faz com que esse direito desapareça, contra o que Hobbes supôs, por exemplo . A solidão manifesta um falso ideal de autonomia e ao mesmo tempo um afeto de esperança, que deve superar as angústias produzidas socialmente.
Assim, a solidão aparece sob outra luz, a da renúncia auto-infligida de seu direito natural. Este direito na medida em que é um poder é sempre e inevitavelmente expresso em relação a outro poder, contra outros poderes, os de outros. O melhor cenário de expressão do exercício do poder não pode ser outro senão o social.
Além disso, a solidão pode facilitar uma certa tranquilidade, pois, como dito, seria expressa a ausência de conflito. Essa tranquilidade também está associada ao conatus , na medida em que se torna uma estratégia possível ou contingente de sobrevivência. Mas é apenas uma tranquilidade imaginária, nada comparável com a aquiescência animi ( TTP 7/17, G III , p.111 ; E 3P55S G II, p.183 & 5P42S, G II, p.308)
Mas os ingleses que estão cansados de ouvir sobre o Brexit no noticiário, desligando a televisão e acreditando que estão escapando do rebuliço de Boris Johnson de um lado e de outro, alcançaram naquele isolamento a verdadeira tranquilidade que ele deveria produzir o estado para seus súditos? Eles podem chegar à sua plenitude, mas ou deixam que outros decidam por eles (algo que aconteceu parcialmente entre os jovens em 2016) ou retornam e se reintegram votando. A renúncia aos mecanismos é uma forma de solidão, entendida como abandono.
Por tudo isso, em contrapartida, a solidão também expressa, junto com aquela imagem de esperança ("autonomia"), o medo inelutavelmente
. Não só porque de um modo geral a esperança está sempre acompanhada de medo ( E 3P18S2 & 3Daf13 expl .), Mas porque de fato “ninguém, sozinho, tem força para se defender, nem pode buscar as coisas necessárias para a vida, segue-se que os homens desejam naturalmente o estado civil e não podem fazê-los dissolvê-lo completamente 8. " ( TP , 6/1, G III, p.297 ) A agressão externa exige a obtenção de meios de defesa, o que significa desgaste adicional no tempo de trabalho.
A sociedade tem funções produtivas e defensivas, segundo as quais o indivíduo persevera mais facilmente na sociedade do que na solidão. E assim como a sociedade cumpre duas funções, com suas vantagens e desvantagens, a solidão também, porque considera o solitário para poder proteger por si mesmo seu modo de vida e ao mesmo tempo deve saber -e poder- se defender das agressões.
IV. Solidão como forma de paz
Para esclarecer o significado e o alcance político da solidão, é inevitável nos voltarmos para a noção de paz, uma vez que esta é uma das modalidades da paz, como afirma Spinoza:
"
Há claramente muitas e mais disputas cruéis entre pais e filhos do que entre senhores e servos, e não está na economia transformar o direito dos pais em domínio e, com ele, ter os filhos como servos. Assim, é do interesse da servidão e não da paz transferir todo o poder para um só: pela paz, como já dissemos,” Não consiste na privação da guerra, mas na união dos espíritos ou concórdia. (Spinoza, TP 6/4 G III, p.298 )”
A passagem levanta dois fatores: primeiro, a transferência do poder para uma pessoa (o contexto da discussão é a monarquia) e a dissolução do Estado, e então a paz como interesse ou fim dessa transferência. Spinoza opera na passagem uma ressemantização do termo pax .
Entre o início e o final do parágrafo, o fim da transferência é em vista de viver em paz, o que é implicitamente formulado como “sem conflito”, a ideia geral de paz 9 .
Por isso, ele indica, são os Estados autoritários, à maneira dos turcos, que sobreviveram por mais tempo. A virada do argumento consiste então em apontar que a ausência de conflito não é, naqueles casos, positiva e internamente definida , como um esforço social e político para concordar, mas externa e negativamente, como a força política - a polícia, então - exercida sobre o corpo social para expressar nenhuma diferença, resistência ou oposição e confirmar sua submissão. E assim, a paz deixa de ser a negação da guerra para se tornar um esforço conjunto. Ao mesmo tempo, nos obriga a pensar na unidade de poder que é transferida não como simplesmente nominal (ou turca) a um constituinte (ou ateniense , para jogar com as oposições históricas).
O conceito spinoziano resultante não é um conceito negativo. Pelo contrário, implica uma positividade pela qual a unidade do político é pensada, enquanto a guerra é com efeito um conceito negativo, pelo qual os esforços comuns são negados. Tendo em vista que o conceito inicial de paz, o negativo, mostra que o caráter policial que produz o epifenômeno da paz se esconde pela repressão exerceu alguma forma de submissão a que Spinoza dá o nome de “servidão, barbárie ou solidão”. Se paz é traduzida por essas expressões, então a paz é miserável.
Vale apenas como nota de rodapé observar a semelhança da noção espinosista de paz com a noção mais clássica de paz, por exemplo a ciceroniana, expressa nestas palavras:
Segundo Cicero
”E o nome da paz é doce e em si uma coisa saudável; mas entre paz e escravidão há uma grande diferença. A paz é a liberdade tranquila, a escravidão [ servitus ] o último de todos os males, que deve ser repelido não só pela guerra, mas também pela morte. “Não apenas o nome da paz é doce, mas a própria paz é benéfica, mas há uma grande diferença entre paz e escravidão; a paz é uma liberdade tranquila, a escravidão o pior dos infortúnios e deve ser rejeitada não só com a guerra, mas até com a morte. " ( Cícero, Filipe. 2, 44, 113 ) 10
A oposição conceitual entre paz e servidão ( servitus ) que reaparece constantemente nas poucas ocorrências que o termo pax tem na obra de Spinoza pode ser enfatizada , sem buscar aqui uma leitura de Cícero por Spinoza, mas antes mostrar apenas o reforço dessa oposição.
Bem, não há nenhum lugar aqui para falar sobre servidão e barbárie, embora algumas coisas possam ser ditas. Primeiro, o exemplo com o qual Spinoza pensa em liquidar a coisa funciona a fortiori
Em relação à analogia apresentada (pai / filho - senhor / servo). A relação pai-filho é, do ponto de vista do conflito, mais amarga do que a relação senhor-servo, mas não há interesse econômico em modificar essa relação à maneira do segundo. Spinoza não se refere diretamente à relação de analogia em termos de política, mas antes enfatiza o interesse econômico. Essa breve alusão à economia enfatiza que a política se baseia em elementos de subordinação econômica e vital. A servidão econômica apenas na aparência produz unidade, mas é devido à subordinação política, isto é, porque o indivíduo é alterius juris porque está “sob o poder de outro” ( Spinoza, TP 2/9, G III, p.280) Daí o ponto de comparação com a relação de pai e filho, onde há poder de outro, mas não servidão. A dependência jurídica ( alterius juris ) refere-se ao problema do reconhecimento, uma vez que a independência supõe o poder de repelir o ataque e vingar o dano por si mesma 11 .
Além disso, segue-se que cada um é tão legalmente dependente de outro quanto está sob a autoridade de outro, e é autônomo [ sui juris ] na medida em que pode, de acordo com seus próprios critérios, repelir toda força e vingar o dano infligido a ele e, em em geral, na medida em que pode viver de acordo com sua própria engenhosidade ( Spinoza, TP 2/9, G III, p.280 ).
Repelir um ataque e vingar o dano por si só são casos explícitos de violência em que está em jogo a vida e a integridade do indivíduo e, ao mesmo tempo, uma certa representação, uma vez que o dano tanto evoca diminuição ou destruição de sua integridade ou de sua patrimônio, pois implica uma noção de desequilíbrio e “injustiça” (indignação). Sabemos que para Spinoza não há justiça nem injustiça, mas “vingar o dano” supõe um sujeito que se representa com certa integridade. Uma ação contra ela é atacar essa identidade, seja ela qual for. Em Spinoza, o reconhecimento passa pelos afetos de estima (orgulho, abjeção, superestimação etc.) em que a ação faz parte da ideia de "merecer" ou não um tratamento. Ser capaz de repelir um ataque e vingar um dano recebido corresponde a "viver de acordo com sua própria engenhosidade". Assim pois,sui juris é definida pela capacidade de se preservar e, ao mesmo tempo, preservar sua independência de ação.
Nem sobre a barbárie nem sobre a solidão, Spinoza dá qualquer exemplo, mas ao colocá-los no mesmo lugar desempenham funções equivalentes. A barbárie evoca um aspecto naturalista , anterior à civilização ( TTP 5/7 e TP 10/4 ) - talvez como o estado natural hobbesiano de guerra de todos contra todos? -. A barbárie funciona como o lugar da ignorância supina, onde os homens suportariam “ser tão abertamente enganados e transformados de súditos em servos inúteis para si próprios” ( TTP 17/6, G III, p.205), isto é, que são estranhos a si próprios e cujo reconhecimento reside na sua redução à servidão, sem salvação possível. Mesmo assim, Spinoza reconhece que "todos os homens, bárbaros ou educados, estão unidos em todos os lugares pelos costumes e formam algum estado civil" ( TP 1/7 G III, pp.275-276 ). A barbárie representa de forma fantasmagórica a servidão (dependência do outro) e a ignorância (dependência da exterioridade): o conflito e não a unidade de forças com os outros está na superfície.
Finalmente, a solidão está próxima da servidão e da barbárie. Prima facie , não pode ser mais que negativo e carrega consigo um aspecto desordenado, ao qual se acrescenta o de abandono e abandono. Na verdade, quando Spinoza introduziu o conceito negativo de paz, ele introduziu a noção de solidão:
Além disso, essa sociedade, cuja paz depende da inércia dos súditos, que se comportam como gado, apenas para aprender a servir, pode ser mais bem chamada de "solidão" do que de "sociedade". ( Spinoza, TP 5/4 G III, p.296 )
Mais uma vez reaparece o tema da servidão, acompanhado do da inércia, que por outro lado lembra o da ignorância, fundindo estes dois temas. Fugir da ameaça em que consiste a servidão parece natural, mas o é menos quando a fuga constitui solidão e isolamento. Além disso, a ameaça não desaparece totalmente; está apenas mais longe.
V. Força de espírito
Volto ao capítulo 5 do Tratado Político , parcialmente citado. Antes de opor solidão e sociedade, Spinoza introduz a ideia de fortitudo animi ou fortaleza de espírito:
Uma sociedade cujos súditos, paralisados pelo medo, não pegam em armas, deve ser considerada mais uma sociedade sem guerra do que em paz. Pois a paz não é a privação da guerra, mas é uma virtude que nasce da força da mente. Pois a obediência ( pelo artigo 19 do Capítulo 2 ) é a vontade constante de executar o que deve ser feito por decreto comum da sociedade. ( Spinoza, TP 5/4 G III, p.296 )
A paz é a harmonia que vem de um estado de espírito, imprimindo a atividade dos indivíduos na sociedade. O estado de espírito, como veremos, fala do caráter positivo pelo qual a paz foi compreendida, e não simplesmente como ausência de guerra. É a força da mente esse estado que mobiliza a paz, razão pela qual está no cerne da coexistência.
Aqui, aliás, a noção de obediência reaparece como execução do decreto comum, atendendo assim à utilidade social e não apenas à utilidade individual. Mas tal execução supõe ações - e não paixões - na medida em que suas afeições são remetidas à mente na medida em que ela compreende.
“Força de espírito é composta por dois afetos, firmeza ou animosidade e generosidade que Spinoza define desejos, um para preservar seu ser pela opinião da razão, o outro para ajudar os outros e sempre os unir pela opinião da razão. ( Spinoza, E 3P59S, G II, p.188 ) 12 . São dois afetos racionais, já que sua motivação é a opinião da razão, e ambos se referem ao conatus , individual ou coletivamente. A importância da fortaleza reside em seu aspecto "racional". Assim, diz Spinoza:
Todas as ações que decorrem dos afetos, que se referem à mente na medida em que ela entende, me refiro à força, que divido em firmeza e generosidade. Pois bem, por firmeza entendo o desejo pelo qual cada um se esforça por preservar o seu ser apenas pela opinião da razão . Por generosidade , por outro lado, entendo o desejo pelo qual cada um se esforça, unicamente pela razão, por ajudar os outros homens e por uni-los a si pela amizade. Portanto, aquelas ações que tendem apenas para a utilidade do agente, me refiro à firmeza, e aquelas que também tendem à utilidade de outro, à generosidade. Assim, temperança, sobriedade e presença de espírito em perigo, etc. eles são espécies de firmeza; em vez disso, modéstia, clemência, etc. eles são espécies de generosidade. ( Spinoza, E 3P59S, G II, p.188-189 )”
Spinoza ataca diretamente o problema do conflito por essas afeições, desejos, se instalam diretamente no conflito e na relação com o outro, de maneira que seja minha utilidade e a do outro que resolvam no conflito. Firmeza e generosidade constituem a força, pois a utilidade não se alcança sem a ajuda do outro. Se um sujeito pensa exclusivamente em sua utilidade, ele retorna a um modo de solidão.
Como você ataca a solidão? Precisamente por esta política de generosidade e firmeza. Spinoza acrescenta que “quem não se move por razão ou compaixão para vir em auxílio dos outros, é precisamente chamado de desumano. Bem (pela Proposição 27 da Parte III), ele parece diferente de um homem ”( Spinoza, E 4P50S, G II, p.247 ). Tanto a razão quanto a comiseração devem servir à utilidade. Entende-se, ao contrário, que o humano consiste nessa ajuda, por razões de ração ou por motivos emocionais. A força da mente não viria mais do que combinar os dois elementos em um. A barbárie surge então como um horizonte significativo na política. Todos os esforços devem ser direcionados para evitar a desfiguração do ser humano, que não consiste em nenhum outro caso que não a ajuda mútua entre um e outro. Surge a barbárie e com ela surge uma certa solidão, devido ao abandono do outro e à ideia de uma salvação privada para cada um 13 . Essa desfiguração responde àquela impassividade e inatividade de quem abandonou a razão ou o afeto pelo outro. O tom do texto parece exigir um certo comportamento, mas nada mais faz do que descrever as consequências desses abandono. O reconhecimento do humano está em sua utilidade para o outro, em seu auxílio e nada mais.
Spinoza coloca no social um critério de racionalidade que responde à utilidade e, no caso da própria composição social, o fato de a humanidade se unir para eficiência e proteção: é mais fácil produzir bens e serviços em uma comunidade onde os bens são distribuídos. tarefas que se cada um tem que adquirir os bens por conta própria.
Os homens, na medida em que vivem sob a orientação da razão, são mais úteis ao homem (pelo Corolário 1 da Proposição 35 desta Parte) e, portanto (pela Proposição 19 desta Parte), sob a orientação da razão necessariamente nos esforçaremos para fazer os homens viverem sob a orientação da razão. E o bem que todo aquele que vive sob a opinião da razão deseja para si mesmo, isto é (pela Proposição 24 desta Parte), que segue a virtude, é entender (pela Proposição 26 desta Parte); então, o bem que todo aquele que segue a virtude deseja para si mesmo, também desejará para outros homens. Além disso, o desejo, na medida em que se refere à mente, é a própria essência do homem (pela Definição 1 de Afetos) ( Spinoza, E 4P37Dem, G II, p.235 )
O social parece ser vagamente constituído pela mimese afetiva, mas isso é relativo na medida em que a mimese é uma modalidade dos afetos, podendo acompanhar tanto o ódio quanto o amor, por exemplo, de tal forma que apostar no caráter afetivo como estrutura principal de socialização é insuficiente.
SERRA. EM CONCLUSÃO
Spinoza reduziu a exposição a uma generosidade mimética pela qual se busca que os outros vivam sob a orientação da razão. Retoricamente é possível compreender o esforço com que cada um - só, talvez - busca que os outros vivam de acordo com seus critérios. Mas é mais difícil esforçar-se para que vivam sob a orientação da razão, o que, como se viu, corresponde a viver de acordo com o decreto comum, isto é, buscar a utilidade do comum. Como se demonstra a utilidade do comum sem excluir a própria e sem que a própria domine a definição dessa utilidade comum? Como essa utilidade é demonstrada a outro no espaço público, especialmente se estiver em conflito com esse outro? A auto-utilidade consistiria em convencer o outro da utilidade comum, em tentar convocar o outro na mesma direção. É um esforço de conservação individual e gregário, mas também visa preservar a própria forma de governo. Sem força de vontade, não só um conflito se estabelece, que se polariza no tempo - dando vantagens a certas concessionárias sobre as públicas e comuns -, mas pode se tornar fratricida - bárbaro. A solidão não é simplesmente um estado individual , mas expressa uma matriz em que os membros da sociedade formulam de certa forma como se ressentem de sua utilidade, e a fortaleza de espírito deve ser capaz de reverter essa matriz, como se a pretensão da barbárie fosse o limite de a política.(Tinland, F. (1991). L'organisation de la puissance: violência, droit, liberté et fondation de l'État selon Spinoza. Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (pp. 349-372).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Balibar, É. (2018). Spinoza politique . O transindividual . Paris, França: PUF. [ Links ]
Basili, E. (2005). La solitudo em Spinoza. Isonomia . Obtido em https://isonomia.uniurb.it/vecchiaserie/basili/basili2005.htm [ Links ]
Beyssade, J.-M. (1994). Vix (Éthique IV Appendice chapitre 7) ou peut-on se sauver tout seul? Revue de Métaphysique et de Morale , 99 (4), 493-503. [ Links ]
Bidard-Frangne, C. (1999). Spinoza: l'exclusion communautaire comme rupture et comme constituição. Tumultes , 12, 31-56. [ Links ]
Blanco, J. (2008). Esse alterius iuris: Espinosa, à rebours (Gênesis e estrutura do discurso sobre a servidão na filosofia política moderna). Em J. Carvajal e ML Cámara (Eds.), Spinoza: da física à história (pp. 273-299). Cuenca, Espanha: Universidade de Castilla-La Mancha. [ Links ]
Balibar, É. (2018). Spinoza politique . O transindividual . [ Links ]
Carvajal, J. (2008). Significado e função da paz em Spinoza. Em J. Carvajal e ML Cámara (Eds.) Spinoza: da física à história (pp. 319-352). Cuenca, Espanha: Universidade de Castilla-La Mancha. [ Links ]
Campos, André FS (2010). Ou significado da filosofia sui juris na de Spinoza. Cadernos espinosanos , (22), 55-83. Doi: 10.11606 / issn.2447-9012.espinosa.2010.89386. [ Links ]
Cicero, MT (1995). Le orazioni (Vol.4, G. Bellardi. Ed.). Torino, Itália: UTET. [ Links ]
Cristofolini, P. (2004). Spinoza, l'individuo e la concordia. Ética e Política / Ética e Política . Recuperado de http://www.units.it/etica/2004_1/CRISTOFOLINI.htm [ Links ]
Cristofolini, P. (1985). Esse sui juris e scienza politica. Studia Spinozana , (1), 53-71. [ Links ]
Fraisse, J.-C. (1974). De l'accord en nature et de l'amitié des sages dans la philosophie de Spinoza. Revue de Métaphysique et de Morale , 79 (1), 88-98. [ Links ]
Hernández P., V. (2007). Fortitudo animi. Sobre a presença do outro no projeto ético-eudaimonista da terceira espécie de conhecimento. Em J. Carvajal e ML Cámara (Eds.) O governo das afeições em Baruj Spinoza (pp. 289-295). Madrid, Espanha: Trotta. [ Links ]
Matheron, A. (2011). Études sur Spinoza et les philosophies de l'âge classique . Paris, França: ENS. [ Links ]
Matheron, A. (1969). Individu et communauté chez Spinoza . Paris, França: Minuit. [ Links ]
Negri, A. (1993). A anomalia selvagem. Ensaio sobre poder e potência em B. Spinoza (G. De Pablo. Trad.). Barcelona, Espanha: Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana. [ Links ]
Pac, A. (2009). Paz após paz. Conflito social e felicidade de uma perspectiva spinoziana. Em D. Tatián (Comp.), Spinoza. Sexto colóquio (pp. 221-232). Córdoba, Argentina: Bruges. [ Links ]
Rojas P., S. (2012). Spinoza: simultanéité et fluctuations . Saarbrücken, Alemanha: EUE. [ Links ]
19. Spinoza, B. (1996). Tratado Teológico Político e Tratado Político . (E. Tierno Galván, Trad.). Madrid, Espanha: Tecnos. [ Links ]
Spinoza, B. (2005). Œuvres (vol. V Traité politique , ed. O. Proietti, tr.C. Ramond). Paris, França: PUF. [ Links ]
Spinoza, B. (1925). Opera (Vol IV. C. Gebhardt. Ed.). Heidelberg, Alemanha: C. Winter. [ Links ]
Steinberg, JD (2008). Spinoza sobre ser sui iuris e a concepção republicana de liberdade. History of European Ideas , 34 (3), 239-249. doi: 10.1016 / j.histeuroideas.2008.01.002 [ Links ]
Tatián, D. (2009). Spinoza e paz. Revista Conatus, 3 (5), 45-50. [ Links ]
Torres, S. (2010). A solidão de Spinoza. Em D. Tatián (Comp.), Spinoza. Sexto colóquio (107-117). Córdoba, Argentina: Bruges. [ Links ]
Tinland, F. (1991). L'organisation de la puissance: violência, droit, liberté et fondation de l'État selon Spinoza. Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (pp. 349-372). Roma, Itália: École Française de Rome. [ Links ]
Valero M., J. Á. (2014). Sobre os dois conceitos de democracia em Spinoza. Laguna Magazine , (35), 73-90. [ Links ]
Visentin, S. (2001). O libertà necessário. Teoria e practica della democrazia em Spinoza . Pisa, Itália: ETS. [ Links ]
1 Professor, pesquisador e diretor do Instituto de Pesquisas Filosóficas da Universidade da Costa Rica (Montes de Oca, San José, Costa Rica). Graduado em Direito pela Universidade da Costa Rica; Graduate and Magister Philosophiæ, da Universidade da Costa Rica; Mestre e Doutor em Filosofia pela Université de Toulouse II. Algumas de suas publicações são as seguintes: (2017) Teoria dos afetos: imaginações e intensidades. Em ML de la Cámara e J. Carvajal (Eds.) Spinoza and Anthropology in Modernity (pp. 245-255). Hildesheim / Zürich / N. York: G.Olms; (2016) Memória e suas representações em Spinoza. Ingenium. Jornal eletrônico de pensamento moderno e metodologia em história das idéias , 10, 161-177. doi: 10.5209 / rev_INGE.2016.v10.54737
2 Salvo indicação em contrário, as traduções correspondem a mim.
3 Por convenção, as obras de Spinoza são citadas de acordo com as abreviaturas usuais e a edição de Gebhardt ( Spinoza, 1925 ) e a edição de Moreau (Spinoza, 1999 e 2005 ): E = Ethica; TP = Tractatus Politicus; TTP = Tractatus Theologico-Politicus, seguido por um G (edição de Gebhardt mencionada acima), volume e página. A menos que indicado, a tradução corresponde a mim.
4 Onde se confundem as noções de potentia e potestas , sendo uma a ideia adequada e a outra a imaginária.
5 A multitudo foi apontada como a base de qualquer conformação política subsequente, como seu substrato político. A democracia seria o substrato de qualquer regime político. Veja Matheron (1969 e 2011 ), Negri (1993) , Visentin (2001) , Balibar (2018) e Valero (2014) .
6 Para uma apresentação geral sobre o conceito de solidão em Spinoza, ver Torres (2010) e Basili (2005) .
7 A solidão pode aparecer como um ponto de partida para a multitudo . Veja Bidard-Frangne (1999 , p.53).
8 Veja TTP 16/8 .
9 Sobre a noção de paz, ver Pac (2009) , Tatián (2009) , Carvajal (2008) e Cristofolini (2004) .
10 Segundo a edição bilingue de Cicero (1995 , p.314).
11 Ver TP 2/10 e, em geral, bibliografia sobre a oposição sui juris-alterius juris , v.gr. Blanco (2008) , Cristofolini (1985) , Steinberg (2008) e Campos (2010) .
12 Ver Hernández (2007 , pp. 290-291) e Carvajal (2008 , pp. 337-339).
13 Ver Beyssade (1994 , pp.501-503), que conclui sobre a impossibilidade da salvação solitária, sem subtrair esta ipseitas da razão do sábio. A figura do sábio revelará a importância da amizade em geral e ao mesmo tempo mostra que o comércio com os outros “é sempre preferível à solidão” ( Fraisse, 1974 , p.88). Em uma linha semelhante, escreve Tinland (1991 , p.359).
Palavras-chave: Solidão; Medo; Democracia; Paz; Utilitário





















Comentarios